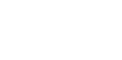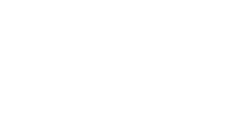Uma coisa é certa: as mudanças climáticas não afetam todos da mesma forma. Enquanto alguns países discutem metas de carbono em conferências internacionais, outros lutam para sobreviver à seca, à fome e à perda de território.
É dessa desigualdade de impactos que nasce a justiça climática, uma ideia que ultrapassa o campo ambiental e adentra o domínio dos direitos humanos e da equidade social.
O termo “justiça climática” (climate justice) surgiu no final dos anos 1980, no contexto dos movimentos ambientais norte-americanos que denunciavam o racismo ambiental. Esse movimento, liderado por ativistas como Robert Bullard, lançou as bases do entendimento de que o meio ambiente e a desigualdade social são dimensões indissociáveis. Com o passar das décadas, o conceito se globalizou e passou a abarcar não apenas a distribuição desigual dos impactos ambientais, mas também as disparidades históricas de responsabilidade pela degradação climática.
No plano internacional, a noção de justiça climática começou a ganhar força institucional a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972). Ali foi reconhecido que a proteção ambiental é essencial para o bem-estar humano e que os países têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Essa expressão seria consagrada vinte anos depois, na Rio-92, quando o Princípio 7 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento consolidou que “os Estados têm responsabilidades comuns, mas diferenciadas, devido às contribuições distintas para a degradação ambiental global”.
Essa ideia é o coração da justiça climática: todos são responsáveis pelo planeta, mas não de forma igual. Afinal, todos não o atingem de forma igual. Objetivamente, países industrializados, que historicamente mais emitiram gases de efeito estufa, têm o dever de liderar a mitigação e financiar a adaptação nos países em desenvolvimento. Essa relação de responsabilidade diferenciada é a base moral e jurídica do Acordo de Paris (2015), principal tratado climático da atualidade, que consagra metas nacionais voluntárias (as NDCs) e mecanismos de cooperação financeira.

Da justiça ambiental à justiça climática global
A transição do conceito de justiça ambiental para o de justiça climática reflete uma mudança de escala e de enfoque.
Enquanto a justiça ambiental se concentra em problemas locais (como poluição urbana, desmatamento ou uso irregular do solo) a justiça climática trata das consequências globais e intergeracionais da crise climática, questionando, sobretudo, quem paga o preço das emissões acumuladas desde a Revolução Industrial – e ambas são igualmente importantes e relevantes, é claro.
Nesse sentido, autores como Mary Robinson (ex-presidente da Irlanda e fundadora da Mary Robinson Foundation – Climate Justice) defendem que o combate à mudança do clima deve ser guiado não apenas por critérios técnicos, mas por princípios de equidade, dignidade e direitos humanos. Robinson define justiça climática como “a alocação justa dos encargos e benefícios das ações de mitigação e adaptação, reconhecendo a vulnerabilidade dos mais pobres e o dever moral dos mais ricos”.
No campo jurídico, o conceito dialoga com o princípio da solidariedade intergeracional, previsto no Princípio 3 da Declaração do Rio/1992, que estabelece que “o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a atender equitativamente às necessidades das gerações presentes e futuras”. Ou seja, a justiça climática é também uma questão temporal, que busca garantir que o planeta continue habitável para as próximas gerações. Assim, é uma responsabilidade compartilhada e ética.
A evolução política e jurídica da justiça climática
A trajetória da justiça climática não pode ser compreendida sem considerar a história dos acordos climáticos multilaterais. Após Estocolmo (1972) e Rio (1992), o tema ganhou densidade com a criação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), em 1992. Essa convenção estabeleceu o arcabouço institucional para as Conferências das Partes (COPs), encontros anuais nos quais os países negociam compromissos de mitigação e adaptação, e por isso não podemos deixar de destacá-la.
O Protocolo de Quioto (1997) foi o primeiro tratado com metas obrigatórias de redução de emissões para países desenvolvidos, simbolizando um passo importante para a justiça climática, ainda que limitado. Já o Acordo de Paris (2015), resultado da COP21, substituiu as metas rígidas por contribuições nacionalmente determinadas (NDCs), reforçando a cooperação voluntária, mas exigindo transparência e prestação de contas.
Em 2022, a COP27 (Egito) deu um passo histórico ao criar o Fundo de Perdas e Danos (Loss and Damage Fund), mecanismo que busca compensar países mais pobres pelos impactos já irreversíveis das mudanças climáticas, como enchentes, secas e elevação do nível do mar. Essa decisão foi celebrada como um marco de justiça climática, pois reconhece que o ônus climático não deve recair sobre quem menos contribuiu para o problema.
A justiça climática no contexto latino-americano
Na América Latina, o debate sobre justiça climática está intimamente ligado à defesa dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A região abriga a Amazônia, maior floresta tropical do planeta, responsável por armazenar cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono e regular o ciclo hídrico continental. A destruição desse bioma afeta diretamente o regime de chuvas, a agricultura e a segurança alimentar de milhões de pessoas.
O Acordo de Escazú (2018), primeiro tratado ambiental da América Latina e do Caribe, reforça essa perspectiva ao garantir direitos de acesso à informação, participação pública e justiça ambiental. O Brasil o assinou em 2018, embora sua ratificação ainda dependa de aprovação legislativa. Dessa forma, este tratado é considerado essencial para a justiça climática, pois protege defensores ambientais, um grupo que, segundo a ONG Global Witness, é um dos mais assassinados no mundo.

Dimensões éticas e jurídicas da justiça climática
A justiça climática desafia a tradicional separação entre Direito Ambiental e Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao reconhecer que as mudanças climáticas afetam o direito à vida, à moradia e à alimentação, ela amplia o espectro da proteção jurídica. Em 2022, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 76/300, reconhecendo oficialmente o direito humano a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. Um passo evidentemente crucial para vincular obrigações estatais a esse princípio.
A justiça climática, portanto, não é um apêndice das políticas ambientais, é sua essência. Ela redefine o paradigma da sustentabilidade, deslocando o foco do carbono para as pessoas, da regulação climática para a redistribuição dos benefícios e ônus da transição ecológica.

REFERÊNCIAS
Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano (1972).
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992).
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, 1992).
Acordo de Paris (2015).
Protocolo de Quioto (1997).
Assembleia Geral da ONU, Resolução 76/300 (2022).
Corte Interamericana de Direitos Humanos, Opinião Consultiva OC-23/17.
Acordo de Escazú (2018).
Robinson, Mary. Climate Justice: Hope, Resilience, and the Fight for a Sustainable Future. Bloomsbury, 2018.
Bullard, Robert. Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality. Westview Press, 1990.
ONU. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York, 2015.